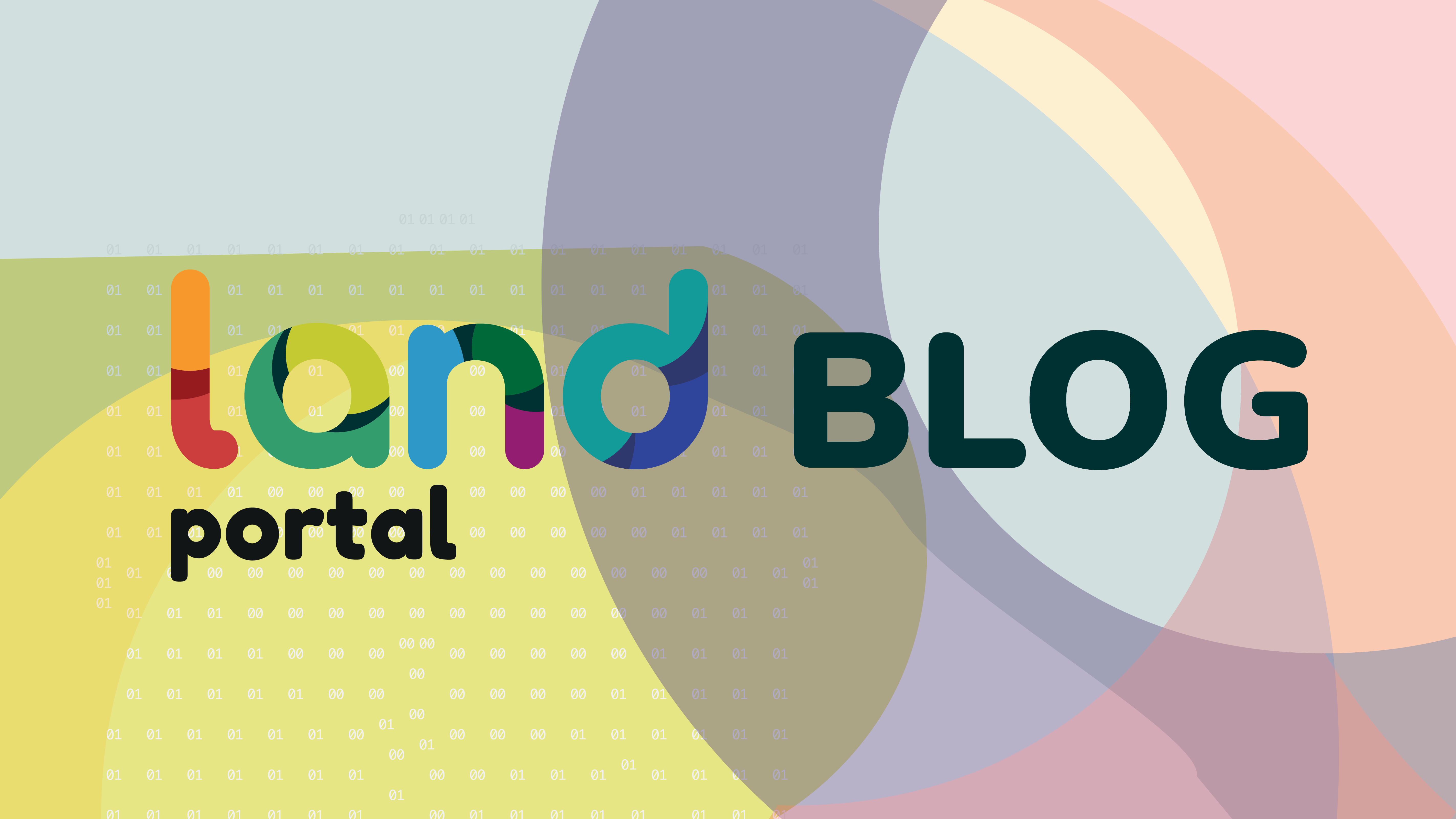Traduzido por Larissa Bontempi.
Socióloga maya quiché, de origem guatemalteca, Gladys Tzul dedicou sua atividade intelectual a refletir sobre as formas comuns de se fazer política no seio das comunidades indígenas. Conversamos com ela a respeito da potência do comunitário, da apropriação cultural e das sobreposições entre o feminismo e as lutas por território em países como a Guatemala.
Nazaret Castro: A que se deve o crescente protagonismo das mulheres nas lutas contra o avanço das atividades extrativistas no Sul global?
Gladys Tzul: O que o extrativismo tem feito é mexer no formigueiro, mas as mulheres sempre estiveram presentes. O que existe em muitos territórios, como na Guatemala ou nos Andes, é uma pauta comum de sustentação da vida, que é muito mais igualitária em termos concretos, materiais e não identitários: todos tomam água, todas usam e cultivam a terra. O avanço das atividades extrativistas confronta essas formas de vida porque toca nas bases que possibilitam a vida: a água é contaminada, a terra se torna infértil. Isso alterou as formas de estrutura e organização comunitária e, visto que quem está mais perto do mundo da reprodução são as mulheres, isso faz com que nesta época haja um crescente protagonismo das mulheres, quando vemos de fora. Os meios de comunicação e os investigadores estão descobrindo agora como as mulheres participam e lutam, mas a história mostra que as mulheres sempre lutaram. Cinco séculos depois da colonização, elas continuam tecendo. Elas continuam trazendo crianças ao mundo (eu nasci com parteira), apesar das políticas de saúde impostas pela colônia. Elas nos curaram das más vibrações até a gastroenterite pela má alimentação. Não é com extrativismo que elas lutam. As mulheres produziram a conservação a longo prazo e de forma eficaz, em termos energéticos, materiais e estratégicos. Então, o protagonismo das mulheres nas litas extrativistas é algo que os pesquisadores estão redescobrindo, mas que sempre sustentou as comunidades. As mulheres são estruturais e não periféricas nos mundos comunitários, nem no mundo em geral. São nossas mães, não o Estado, quem nos criou e alimentou apesar das crises.
N.: E que usam de uma inteligência coletiva, formas diferenciadas de fazer política…
G.: O mundo comunitário sempre foi assim, as mulheres foram centrais, tiveram capacidade estratégica em termos concretos e estéticos. Mas não havia literatura sobre processos de liberação de mulheres; isso começou a ser pensado a partir do feminismo liberal, que pensa que nestes mundos indígenas há uma espécie de patriarcado absoluto e isso não implica negar a existência de hierarquias internas próprias do mundo feminino, que todas as mulheres temos que confrontar, seja eu indígena e você não. Em termos simbólicos, creio que padecemos desse tipo de ordem masculina; meu irmão tem vantagens, mas isso não significa uma espécie de obscurantismo ou mundo pré-medieval em que as mulheres não têm capacidade de desejar, nem capacidade política de imaginar. De fato, as mulheres mais destrutoras que conheci foram minhas tias e as mulheres nas comunidades, que tiveram energia e sabedoria para fazer o que nós somos hoje em dia. Agora, isso é visível e surpreende. Como cuando en San Juan de Sacatepequez, donde las comunidades que se enfrentan a una cementera sacaron a San Francisco de Asís. Como as pessoas não pedem licença para fazê-lo, esse é o resultado. Não aparece nas formas clássicas de discurso ou chamando para a revolução. Outro exemplo, as mulheres amazônicas apareceram dançando ou, na Marcha Amazônica das Mulheres do Equador, saíram com flores. Existe uma dimensão muito sedutora da política, uma espécie de grande luta pela vida, com cerimônias religiosas, flores, santos, lanças. Acredito que é isso o que surpreende. É que no mundo comunal, não existe uma separação entre política e economia ou política e religião.
N.: Nos seus textos, você utiliza o termo “Vontade de vida” – e intitula um deles assim – para se referir à capacidade das mulheres de se recompor, de resistir…
Escrevi esse texto comovida pelas mulheres ixil que organizaram o processo contra Ríos Montt. Tem um momento numa festa em que as mulheres dançam com mulheres e os homens com homens. Eu estava dançando com uma delas. Me contou que teve treze filhos e oito ficaram na guerra. Desses oito, encontrou cinco debaixo da terra e três estão desaparecidos. E você não ficou triste?, perguntei a ela. Sim, ela me disse, mas o que vou fazer se tenho mais cinco vivos e tenho que encontrar os outros três para enterrá-los. As primeiras que se encontram escavando debaixo da terra são as mulheres que procuram pelos seus filhos. Ela era a organizadora da festa também. Como pode ser? Se essa senhora não se deprimiu, então como nós vamos nos render? Elas são as mais duronas e ao mesmo tempo são frágeis. Em algum momento se rompeu e chorou. Eu me perguntava, como faço para dar justiça a isto, o que essas mulheres têm que se avalentoam e seguem em frente? Elas choram muito, lamentam que seus netos não tenham conhecido os pais, são frágeis, mas ao mesmo tempo têm uma energia para se recompor. O que elas têm? Vontade de viver. Usei essa expressão no meu texto como homenagem a essas mulheres. Essa força delas quando dizem “Não queremos que a hidroelétrica venha aqui, que meus filhos trabalhem para vocês”. Veem o potencial capitalista, o potencial de dignidade. Esta região na Guatemala foi muito interessante na guerra; houve lugares onde se tentou o extermínio; são cinco, aqui é um deles. Ultimamente, trabalho lá e estou transpassada, é toda uma experiência de compreensão do mundo e da dor. Essas mulheres enfrentaram a morte de adolescentes, filhos, pais, esposos, irmãos, e há nelas uma fragilidade e interperturbação ao mesmo tempo. Tentaram foder com as vidas delas, são enfraquecidas e são as que podem colocar em questão a política de crescimento, de desenvolvimento. Por isso intitulei esse texto como Vontade de vida.
N.: Talvez por essa capacidade de resistência, é atribuída às mulheres uma maior resistência à cooptação pelo emprego e pelo salário. Na Guatemala, várias pessoas de organizações sociais de base me disseram que onde há protagonismo de mulheres nos processos de resistência comunitária, é mais difícil que as comunidades se deixem convencer pelas empresas e pelo Estado para aceitar a implantação de projetos extrativistas em troca da promessa de emprego, desenvolvimento e progresso. Você concorda com isso?
G.: É que o trabalho e o salário também são uma necessidade. De fato, há um discurso que diz que as mulheres são as que menos querem que os projetos extrativistas cheguem, mas acredito que os homens tampouco querem; depende da região onde você pesquise. Por exemplo, na Costa Sul da Guatemala, onde existe a propriedade privada da terra, é mais fácil que ocorra um processo de venda dessa terra, e as mulheres geralmente são as mais relutantes porque pensam nos seus filhos, no futuro. Mas meu pai e meu tio também pensam assim. Temos que cuidar para não generalizar, não achar que os homens vão vender mais rápido, porque esse discurso segmentador entre homens e mulheres pode nos impedir de ter uma compreensão mais estratégica da luta contra o extrativismo. Os homens estão mais próximos do salário, têm uma experiência mais direta com esse mundo da exploração, mas não acredito que esse argumento seja uma realidade absoluta; devemos encontrar explicações mais profundas.
N.: Me intriga, como europeia, a incompreensão que o feminismo hegemônico branco tem de certas dinâmicas e problemas; de pensarem que na realidade as comunidades afrodescendentes e indígenas não sofrem com os problemas do patriarcado. De fato, comumente as mulheres negras ou indígenas não se definem como feministas. Você acredita que, agora que o feminismo é mais massivo e influente, houve avanços nesse sentido e estamos aprendendo a escutar mais?
G.: Para além de um corte ou cisão com o feminismo, estamos reconhecendo nossa própria genealogia, a longa memória de lutas nas terras comunais. Não é que nos consideremos antagônicas ao feminismo, mas reivindicamos uma história própria das mulheres indígenas. Existe, sim, um antagonismo com o feminismo liberal e liberalista, institucionalizado, que tentou hierarquizar e impôs uma interpretação de exclusão e vitimismo das mulheres comunais, como se a violência não acontecesse em outros contextos. Acredito que é um bom momento para se perguntar, questionar qual é o horizonte de luta. Eu refleti sobre as formas de luta das mulheres de terras comunais, onde o horizonte de luta é que a terra permaneça comunal; impedir a privatização do território é um horizonte que, se não for claro, está historicamente formado. Eu perguntaria às mulheres europeias e urbanas qual é seu horizonte de liberação, por que lutam, que experiência têm em relação ao pagamento de aluguel ou hipoteca, quais são suas dificuldades. Podemos ver uma série de cruzamentos e intercâmbios. Eu não me considero feminista, mas me interessa sim, pensar quais das minhas perguntas são respondidas pelo feminismo: Silvia Federici me ajudou a dar conteúdo a algumas das minhas perguntas. Sua campanha de pagamento pelo trabalho doméstico é espetacular, de uma conotação material ao trabalho afetivo e doméstico: concretude. Existem muitas interpretações podem ser complementares para não ter uma espécie de ordem universal.
N.: Às vezes, de fato, o movimento feminista hegemônico e branco pecou por escassa compreensão de outros contextos, como acontece também com relação às mulheres árabes…
G.: Shava Mahmud, uma mulher egípcia, pergunta qual é o horizonte, qual é o conteúdo dos horizontes de usufruto ou liberação das mulheres. Em uma sociedade tão diferente como é a árabe, fez um trabalho de campo com pessoas do seu próprio povo, do seu bairro, e descobria que elas queriam a piedade como horizonte de liberação; não era ser deputadas ou funcionárias. Optam por isso porque de fato têm a propriedade. Enquanto há um movimento na Europa que quer tirar o véu delas, elas querem entrar nas madraças. Propõem um horizonte de realização, de liberação, consolidado na piedade e no apoio. Elas começam a fazer campanhas de ensino do Corão em umas mesquitas de classe baixa no Egito e se dão conta de que lá há muita gente que não tem casa, ou crianças sem pai; querem ensinar, mas se dão conta de que isso não resolve e acionam uma rede de centros sociais que funcionam em paralelo com as mesquitas e fazem uma leitura do Corão em tom feminino. Ella rastreará que en los posteriores levantamientos en egipto, hay un poso que viene de estos centros. É impactante. Me ajudou a esclarecer horizontes de liberação não liberal. Isto é, as mulheres não se liberam sozinhas. Porque ninguém consegue nada sozinho.
N: No começo desta conversa, eu falei dos têxteis da Guatemala. Nos últimos tempos, foram vistos publicamente, casos como o de Carolina Herrera, em que comunidades indígenas denunciaram a utilização ilegítima de suas criações por parte de grandes empresas ocidentais. Você acha que se trata de apropriação cultural? Os saberes ancestrais são extraídos dos territórios, assim como os recursos naturais?
G: Mais do que apropriação cultural, se trata de plágio. Nós dizemos que, assim como plagiam os têxteis, plagiam as sementes quando as patenteiam. É um processo de saqueamento. Nos casos dos têxteis da Guatemala, impulsionamos uma assembleia nacional de tecelãs, um movimento no qual se juntam entre 4.000 e 5.000 mulheres e que se trata de um processo comunitário que não é dirigido pelo Estado. Estamos falando de têxteis que são muito caros, alguns “wipiles” chegam a custar mil dólares. Isso é herdado, passado de geração em geração.
N.: Última pergunta, antes de terminar. Dada a sua trajetória vital e seu enfoque político e teórico, por que escolhe trabalhar na academia, que é uma instituição colonial e patriarcal em sua origem?
G.: Porque eu gosto. Adorei conhecer autoras, como por exemplo, Maria Mies ou Silvia Federici, ler Michel Foucault… gosto muito desse tipo de experiências presentes na academia. Meu pai é professor, sempre tivemos livros em casa. Me interesso em construir uma argumentação intelectual sobre esses mundos comunitários. É um interesse e me dá prazer. Neste caminho, também prendi muito com vários colegas acadêmicos indígenas que me alimentaram muito, conheci companheiros no Equador, por exemplo, me permiti estabelecer uma rede onde fazemos o que queremos e o que conseguimos no mundo acadêmico. Com [a acadêmica e militante feminista argentina] Verônica Gago, as palavras chamam as palavras. Gosto desse mundo, sou crítica da institucionalização e da captura das lutas que foram institucionalizadas; com essa ebulição e essa potência deve haver muitas que já estão querendo codificar em termos institucionais e de políticas públicas essas lutas que foram produzidas por todas; sou crítica à banalização das lutas indígenas na academia. E esse é um lugar que devemos disputar. A teoria também é um momento de luta. Devemos disputar as ideias. Devemos estar atentas a como elas são formadas. As comunidades indígenas sempre tiveram a tradição da escrita e de formação, não estou alheia. Quando eu era criança, meus pais começaram a pesquisar sobre as lutas indígenas. Acredito que, embora seja certo que a academia tem uma dimensão classista, não se deve pensar sobre ela de maneira universal.
Esta entrevista foi publicada originalmente na Revista Amazonas.